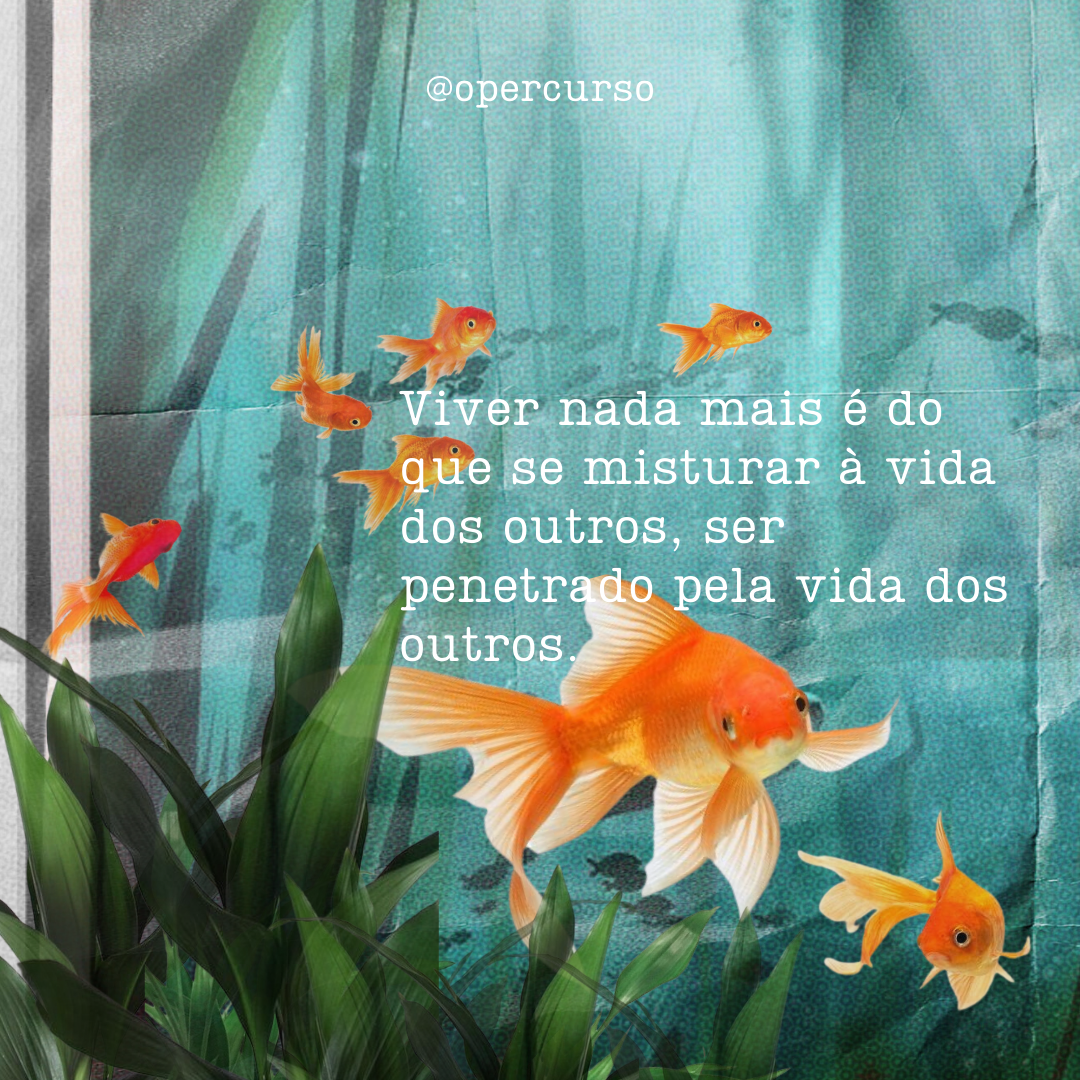Um grande aprendizado que tivemos com a quarentena é que possuímos uma necessidade visceral do contato com o outro, de estar em relação com as pessoas, mesmo que virtualmente.
E será que o virtual dá conta dos encontros? Dessa interpenetração das presenças? O que somos sem a presença do corpo? O que resta de nossa presença sem o corpo?
Creio que este questionamento existe desde que a internet se tornou acessível em nossas casas, desde o início das redes sociais. Ou talvez tenha começado muito antes, quando trocávamos correspondências com quem estava distante.
Podemos sentir a presença de outras pessoas mesmo quando não estão próximas? Até onde as virtualidades podem ser sentidas como algo real?
Com a pandemia, nos tornamos ainda mais seres em bolhas, com toda nossa vida mediada pela tecnologia, incluindo os relacionamentos. Não conseguimos imaginar uma realidade pandêmica sem internet, mas nunca o contato físico foi tão desesperadamente ansiado a ponto de algumas pessoas burlarem as normas de segurança, colocando a sua saúde e a dos outros em risco.
Tenho refletido muito sobre a inserção da tecnologia na vida cotidiana e, embora reconheça a dependência que criamos dela, não sou anacrônica e tampouco saudosista. Não acho necessariamente ruim uma vida mediada pela tecnologia. Confesso que aprecio a internet porque ela nos permite experimentar a vida de muitos modos que não conheceríamos sem ela. E por podermos ter acesso quase ilimitado às informações, o que é maravilhoso, mesmo que tenha seu lado nocivo.
Fazendo uma corruptela de Confúcio, “aprender sem pensar, é inócuo; pensar sem aprender, é perigoso.”
Talvez seja o tempo investido na reflexão ou na repetição que diferencie o conhecimento da informação absorvida sem passar pelo viés de um senso crítico. O que muda é o foco e a percepção.
Existe um campo de realidade que nos interpenetra onde tudo está presente simultaneamente dentro de diversos outros campos de frequências ou informações. Bolhas dentro de bolhas. Somos como bolas de bilhar colidindo em um tabuleiro de xadrez.
Nós escolhemos onde conectar nossa energia, quais informações absorver. Mas mesmo que escolhemos, por autoproteção, nos alienar do que nos cerca em nossas ilhotas de conforto e segurança, algo do que acontece no mundo estará sempre nos atravessando, porque não existimos sem o outro ou fora do mundo.
Além das ideias de certo e errado, há um campo. Eu lhe encontrarei lá.
Quando a alma se deita naquela grama, o mundo está preenchido demais para que falemos dele. Ideias, linguagem, e mesmo a frase ‘cada um’ não fazem mais nenhum sentido.
— Rumi
Então, não seria a Internet a reprodução de algo que sempre existiu na natureza? É só observarmos a rede de informações e fluxos energéticos entre as árvores de diferentes espécies, ou entre as plantas e os insetos, ou entre os animais e seus predadores, e tudo o mais que existe entre nós e entre nós e a natureza.
A internet pode ser a cópia de algo que já existia antes de sua invenção. O campo de informações e conexão entre nós já estava lá bem antes de termos a rede que nos conecta mundialmente.
Talvez a internet esteja nos ensinando muito mais sobre a natureza do real e de nossa própria presença no mundo do que gostaríamos de admitir. Somos esses seres mergulhades em um mundo líquido, em contato com tudo e com todes, como peixes que não sabem o que é a água. Onde estão os limites? Onde acaba o peixe e começa a água se ambos sempre estiveram ali, um dentro do outro?
Em termos da comunicação entre nós, tenho estendido minha reflexão para o uso que fazemos das redes sociais (ou o uso que elas fazem de nós e de nosso tempo). Consumimos conteúdos ou somos consumidos por eles?
Nessa dimensão de existência, o que temos de mais precioso senão o tempo? E o que é o tempo senão uma acumulação de nossos afetos e de acontecimentos e variações?
Venho de uma imersão, no último final de semana, em uma formação que promoveu experiências relacionais potentes com pessoas inspiradoras e que me mostrou que podemos sim, reinventar realidades, possibilitando encontros e afecções virtuais com uma qualidade de presença tão intensa e profunda quanto um encontro presencial proporciona.
Há anos venho me conectando com pessoas com quem nunca estive presencialmente e tem sido uma boa experiência. Não estou dizendo que é o mesmo, nem melhor ou pior, mas que isso já é uma realidade possibilitada pelas redes sociais. Então, também posso dizer que as aprecio. O que não invalida que eu reconheça sua força de captura de nossa potência e de nosso desejo, garimpando nosso tempo como quem pastoreia e ordenha o gado.
É preciso criar linhas de fuga que sejam capazes de desterritorializar as redes sociais e produzir respiros e abertos que nos permitam inventar novos modos de nos relacionar com a tecnologia, fazendo melhor uso dela mais do que nos deixando ser usades por ela.
Para evitar a captura, venho estabelecendo limites muito claros tanto na vida pessoal quanto no trabalho, para não ser tragada nessa rede que não só nos atribui uma identidade falseada, em uma realidade distorcida a partir de recortes previamente demarcados, num looping infinito de prazer, desprazer, euforia, frustração e compensação. Enquanto cobra a nossa própria vida para manter essa exterioridade, vai minerando nosso tempo de existir, capturando nosso desejo e o agenciando nessas máquinas de produção de bens de consumo e consumo da nossa vida interior.
É preciso parar e tirar um tempo para pensar sobre o que estamos fazendo com nosso tempo.
Sobre as redes sociais, parti de algumas resoluções básicas para minha sobrevivência mental: aderi ao conceito de slow content (postar pensando em relevância e qualidade e não em quantidade), não exponho minha vida pessoal (até porque sou uma pessoa introspectiva e reservada) e não me atenho a números (neste caso a matemática algorítmica de seguidores, curtidas, compartilhamentos).
Então, há coisas que você não verá em minha rede social: fotos empostadas fingindo naturalidade, vídeos de minha rotina de exercícios ou registros do meu café da manhã, fórmulas prontas de sucesso ou receitas de bolo da felicidade instantânea.
Eu sou (quase) isso que se vê. Estou tentando envelhecer naturalmente sem ser capturada pela máquina de produção de semelhança, com minhas marcas de expressão e rugas, me preocupando mais com a saúde do que com números na balança, minhas sobrancelhas escassas, meu nariz largo evidenciado pela distorção da câmera do celular e meus cabelos grisalhos desalinhados, que eu não pinto (de verdade, muitas pessoas me perguntam isso).
É um desafio constantemente renovado não deixar se prender aos estereótipos e ciclo de consumo de imagens, fazendo o caminho inverso da liberdade, onde entramos cada vez mais no quadrado, limitando nossas existências às inúmeras telas disponíveis.
Ouse, ouse... ouse tudo!!! Não tenha necessidade de nada! Não tente adequar sua vida a modelos, nem queira você mesmo ser um modelo para ninguém
— Lou Andreas Salomé
O que você vai encontrar em minhas redes sociais além das artes maravilhosas da Marceli Mazur: pequenos textos, reflexões, meditações guiadas e vídeos breves em que eu provavelmente devo parecer bem tímida (porque sou, mesmo), uma ou outra live que me diverti muito fazendo, no começo da pandemia e voltarei a fazer quando achar que poderá ser pertinente, útil ou divertido.
O fato é que não gosto de me fotografar ou ser fotografada, o que poderia parecer uma contradição para quem manteve um projeto de arte com autorretratos durante quatro anos, quando as redes sociais ainda não eram tão populares.
Por outro lado, é bem natural que eu tenha simplesmente me cansado de fotografar a mim mesma, me esgotado no exercício de produzir centenas de imagens e hoje tenha certa resistência a selfies.
Ou simplesmente me sinta um peixe fora d’água no que se refere a redes sociais. Eu sou a vovó das selfies, bebê. Uma avó cansada.
Produzia autorretratos antes das selfies serem moda, porque estava em um exercício de auto escrutínio e na tentativa de tornar a vida obra de arte, enquanto me debruçava sobre o pensamento de Lowen que preconizava que o narcisismo seria a doença do século e de Guy Debord, com a “sociedade do espetáculo” e das relações sociais mediadas por imagens, enquanto estudava filosofia da fotografia. Bons tempos.
Na imersão que fiz no final de semana, tive uma experiência interessante. Em um dado momento, retirei um papel de um calhamaço e a partir de uma dobra aleatória do canto que havia amassado, comecei a repetir o desenho da linha produzida pela dobra, em torno dela, para depois ir desconstruindo esse padrão e criando outras formas mais circulares e fluidas e ondas que desencadearam espirais.
Enquanto me deixava levar pela dobra e linhas de fuga no papel, me lembrei das aulas de educação artística na escola, em plena época da ditadura militar, quando a professora nos fazia desenhar a partir de padrões repetitivos de linhas ou curvas, círculos ou pontos. Eu detestava as aulas e achava esses exercícios particularmente enfadonhos, não tinha muito capricho em nada e artes era a única matéria em que minhas notas eram abaixo da média.
Eu adorava desenhar, mas detestava ter de desenhar. Meus cadernos eram lotados de desenhos de padrões de linhas, curvas e pontos, mas quando a professora exigia que os fizesse, me sentia drenada em minha energia criativa, o que travava qualquer produção.
Esta é a mesma sensação que tenho com as redes sociais. Adoro ter na palma da minha mão todo tipo de assunto interessante, me inspirar e me misturar na vida dos outros, adoro a troca proporcionada, compartilhar ideias, dialogar. Mas quando isso se torna algo compulsório para alimentar uma máquina de produção de conteúdo e consumo, minha mente cai no chão e exige silêncio.
Então, sigamos por aqui, eu e você, cada uma no seu ritmo próprio, produzindo realidades e nos encontrando na rede e no campo de infinitas possibilidades. Respirando sob a água.